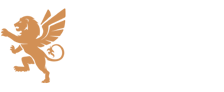Reis Friede: O mito da eleição direta para presidente dos tribunais

[ad_1]
É da tradição de nossos tribunais — muito anterior ao advento do Regime Militar — o critério da antiguidade para o acesso e exercício de sua presidência, através de referendo ratificador por parte de seus membros. Ainda que se reconheça que esta tradição já vem sendo, de certa forma, rompida, haja vista o que vem ocorrendo em alguns tribunais estaduais, é lícito concluir que os resultados colhidos até a presente data indubitavelmente nos dão conta de um elevado grau de criticável politização do Poder Judiciário local. Além de um relativo comprometimento da recomendável isenção na administração destes tribunais.
Ainda assim, salta aos olhos a tramitação no Congresso Nacional da PEC 187/2012, que propõe, simplesmente, alterar a Constituição para permitir a eleição livre para os órgãos diretores de todos os tribunais de 2º grau.
Em linhas gerais, a chamada “PEC da Democratização do Judiciário” estabelece que os tribunais intermediários deverão passar a eleger os integrantes dos seus cargos de direção por maioria absoluta de todos os magistrados vitalícios, e não apenas de seus membros.
O argumento central repousa no frágil entendimento de que a administração dos tribunais “mantém suas decisões concentradas nas mãos de poucos, e que sua concepção é baseada na hierarquia militar, reflexo dos tempos do regime militar, e que, por esta razão, sua escolha não deveria pertencer à Corte” (Bollmann, Vilian. A Completa Democratização do Judiciário. Correio Braziliense, 26 Mar 2014.).
A par de toda a respeitável linha argumentativa, o mais interessante é que a referida PEC não se apresenta com o necessário dever de coerência argumentativa quando exclui, expressamente, os órgãos de cúpula do Poder Judiciário (STF, CNJ e STJ), onde, provavelmente, o argumento pelo “clamor democrático” seria muito mais perceptível, apreciável e adequado.
Também, vale ressaltar que a enfática defesa de que o atual Colégio Eleitoral para eleições nos órgãos diretivos dos tribunais deveria ser ampliado para igualmente incluir juízes de 1º grau, — “justamente os que têm no dia-a-dia contato direto com o cidadão que demanda justiça” (Bollmann) —, resta, no mínimo, contraditória, posto que, por esta mesma linha de raciocínio, seria necessário incluir os demais operadores do Direito, ou seja, os membros do Ministério Público e os advogados.
É curioso observar que ninguém se preocupou em estudar mais aprofundadamente e, sobretudo, entender, com maior atenção, as razões históricas de o consagrado critério de antiguidade ter se fixado no Poder Judiciário como uma salutar tradição que se iniciou após o fim do Estado Novo (1937 a 1945), exatamente como uma importante e necessária resposta ao clamor democrático que repudiou, de forma veemente, o anterior critério eletivo amplo que somente serviu aos interesses populistas de Getúlio Vargas.
É importante registrar que todas as Constituições posteriores a este momento ditatorial outorgaram plena autonomia aos tribunais para elegerem seus cargos de direção, — exclusivamente por voto de seus membros e observado o critério de antiguidade —, o que acabou por consagrar o importantíssimo e democrático princípio do autogoverno da magistratura em nosso país.
Ademais, a razão de ter sido historicamente privilegiado o critério de antiguidade nos referidos processos de escolha dos órgãos diretivos de nossos tribunais se deve ao fato de que, não obstante o Poder Judiciário ser um reconhecido poder político, inerente ao Estado Democrático, sua função precípua (jurisdicional) é exercitada de forma predominantemente técnica, através de uma tríade indissociável a incluir a imparcialidade, a impessoalidade e a independência, paradigmas que revelam um imperativo de necessário e saudável distanciamento político e de ações políticas por parte de seus membros.
A prevalecer, data maxima venia, essa irrefletida, descabida (e pouco debatida) proposta de emenda à Constituição, passaríamos a ter, — de forma impositiva e desafiadora da própria autonomia judiciária —, nos Tribunais Estaduais e, em particular, nos tribunais regionais federais —caracterizados pelo número restrito de desembargadores — inéditas disputas político-eleitorais que não somente poderiam vir a paralisar o bom andamento de seus trabalhos, a envolver seus membros em intensas campanhas eleitorais por vários meses anteriores ao pleito (se assemelhando, em muito, ao que ocorre nas seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil), mas também abrir um verdadeiro leque de possibilidades inimagináveis, como a de que desembargadores advindos do quinto constitucional e recém-empossados, sem qualquer conhecimento sobre o funcionamento administrativo de um tribunal — mas com excelente trânsito político — possam ser eleitos para a alta administração do tribunal e, inclusive, para a sua presidência, pondo muitas vezes a perder, por seu conhecimento incipiente da função, uma organização eficiente construída ao longo de décadas e forjada em vigorosa experiência e maturidade que somente o tempo efetivamente propicia.
Igualmente, ao excluir, dos novos critérios propostos, o cargo de corregedor, poderia vir a ocorrer a esdrúxula situação factual em que o cargo de corregedor, eventualmente ocupado por desembargador mais antigo, teria uma certa ascendência sobre o presidente, em sinérgica subversão hierárquica não somente da estrutura do próprio tribunal, mas também em relação à organização vertical do Poder Judiciário.
Temerariamente, parece que tais situações pontuais encontram-se, ainda que de maneira implícita, na justificação para a propositura da PEC em comento, haja vista a atual realidade pátria, em que muito tem sido conseguido, lamentavelmente, através do “compadrio”.
Em necessária adição argumentativa, deve ser consignado que praticamente nenhum país submeteu-se a tal critério e, nos raros países em que experiência semelhante foi concretizada, como na Espanha, a própria categoria dos magistrados daquela nação tem visto com grande apreensão esta politização da Justiça, que não seria de forma alguma um reflexo de uma maior democracia, mas apenas a certeza de que verdadeiros “conchavos políticos” conseguem melhores resultados na hora de se buscar a posição de presidente.
No caso específico da função judicante, não é possível deixar de reconhecer que, hodiernamente, esta se perfaz através de um viés no qual a experiência de vida permite uma interpretação crescentemente mais justa das leis, tornando-se cada vez melhor quanto maior for o tempo em atividade. Relembre-se, neste sentido, que, na antiguidade, os julgamentos eram efetuados por conselhos de anciãos, ou seja, a “justiça” era proporcionada pelos indivíduos mais experientes no seio social, reconhecendo-se a maturidade, a experiência de vida e o conhecimento prático e teórico acumulado ao longo do tempo como essenciais ao mister da função jurisdicional e administrativa correlata.
É exatamente por esta razão que não é possível que se cogite faltar democracia no fato de continuarmos a seguir o consagrado critério de antiguidade na eleição de presidentes dos tribunais pátrios, como medida de salutar equilíbrio e não-politização do Poder Judiciário nacional, seguindo os melhores e mais diversos exemplos presentes nos países mais democráticos da atualidade, bem como do próprio processo de democratização do Judiciário, inaugurado a partir de 1946, que buscou sepultar, em definitivo, o “populismo” da Ditadura Vargas, que permitiu curvar todos os Tribunais sobreviventes (é importante lembrar que a Constituição de 1937 simplesmente extinguiu a Justiça Federal) às suas ordens e interesses, através, e sobretudo, da aplicação do amplo critério eletivo (e eleitoreiro) de seus presidentes.
Não é por outra sorte de considerações, portanto, que devemos sempre ter em mente que o verdadeiro caminho para a democratização do Judiciário passa, não pela politização tanto de sua estrutura como de seus membros, mas sim (e principalmente) pelo fortalecimento da própria carreira (exclusivamente composta de magistrados concursados), como ainda e fundamentalmente, pela sinérgica efetividade do poder jurisdicional inerente aos magistrados de 1º grau, o que implica dizer em restringir os inúmeros recursos e a ampla gama de nefastos efeitos suspensivos que vêm transformando, na prática, os juízos monocráticos em simples juízos de instrução, como bem assim seus respectivos julgadores em meros magistrados de iniciação processual.
Por efeito conclusivo, é exatamente a despolitização e o afastamento do caráter populista e eleitoreiro nos Tribunais que, historicamente, — ao reverso do que preconizam os mais desavisados —, se constituem na grande e verdadeira conquista democrática pós-ditadura Vargas, sendo certo que ainda resta o desafio de ver sepultada a última herança daquele sombrio regime, ou seja, a extinção da figura política do quinto constitucional, a permitir, por derradeiro, a prevalência do critério meritocrático de acesso a todos os tribunais, com a consequente promoção de seus membros circundada exclusivamente aos juízes de carreira, afastando-se, desta feita, qualquer ingerência política de outros poderes ou mesmo de politizações indesejadas, em efetiva consagração da democracia (e dos valores democráticos) que preconiza a existência de um Poder Judiciário realmente independente. Afinal, não é do interesse do povo brasileiro que o Poder Judiciário venha a se transformar em simples Serviço Judiciário.
Reis Friede é desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, diretor do Centro Cultural da Justiça Federal (CCJF), mestre e doutor em Direito.
[ad_2]
Advogado em São José do Rio Preto